"Comer, Rezar e Amar" é o tipo de literatura que a gente tem que se prestar de vez em quando. O meu "O Processo" by Kafka ali no criado mudo que há mais de uma semana travou nas cento e tantas páginas não me deixa mentir.
A história do livro é bem batida, todo mundo já leu uma resenha ou já viu o filme e sabe mais ou menos do que se trata. Em resumo, uma mulher loira, linda e inteligente que depois de algumas desilusões amorosas sai pelo mundo à procura de... de alguma coisa que eu esqueci o que inicialmente era.
Sou realmente péssima em lembrar de histórias - tanto as minhas, quanto as dos outros. Dia desses estava escrevendo um texto enorme no tumblr e o navegador fechou e perdi tudo. Fiquei horas tentando reescrever e acabei desistindo, não consegui relembrar nem de um parágrafo completo, algumas poucas frases desconexas. Com livros é a mesma coisa, quase nunca me lembro da história completa. Daí vem a minha mania de sublinhar tudo que eu acho legal e de sair anotando e distribuindo esses fragmentos por aí.
Com o livro da Elisabeth Gilbert não foi diferente: se você vier falar comigo sobre ele, provavelmente não vou me lembrar de dois terços da história. Lembro das boas sensações que seguiram a leitura, do amigo vegetariano que come bacon, de como ela declara seu amor pela língua italiana, explicando suas origens e expansão. Lembro da caixa em que ela guardava recortes de lugares onde ela queria ir - e que, quando li essa parte, fiquei super extasiada, porque eu tenho exatamente a mesma caixa.
Mas o que mais ficou pra mim do livro é uma parte em que um dos personagens diz pra Liz que todas as pessoas tem uma palavra que as traduz, e finalmente pergunta pra ela: qual é a sua palavra?
A história sobre como ela encontrou a palavra dela é realmente válida, mas infelizmente não estou apta a contar, porque eu simplesmente não me lembro com detalhes. E só me resta, então, contar a história sobre a busca da minha palavra.

A minha primeira teoria sobre as palavras absolutas é que elas nunca são absolutas, simplesmente porque ser absoluto não é fácil. Há seis meses atrás minha palavra poderia ser qualquer coisa relacionada ao jornalismo, mas se dependesse disso, hoje ela seria qualquer coisa relacionada ao foda-se. Nós somos muitos ao longo dos caminhos. Nunca um só. E as palavras que nos traduzem também.
A primeira palavra da minha vida foi pica. Assim, sem mais nem menos, digo sem medo de errar. Nessa época estudava no colégio batista, em plena selva amazônica. Tinha nove anos e, pra minha insatisfação, diferentemente de todas as outras meninas, eu já tinha começado a ter peitos. Era horrível e me obrigava a andar sempre curvada, tentando disfarçar. Os meninos faziam muita chacota com todas nós. Tinha um, em específico, que se chamava Santiago e foi o cara que eu mais odiei em toda a vida. Ele se dedicava basicamente a inventar apelidos pra mim e pras minhas colegas. Tinha uma coitada que ele chamava de Cabritinha. Ela ficava possuída, e eu também.
Era uma sala pequena, uns onze alunos. Santiago se juntava com os outros meninos, Diego, Igor e Matheus pra fazer maldades com a gente. Roubavam nossas bonecas, espalhavam nossos segredos, chutavam a bola na nossa cabeça... Um dia eu fiz alguma coisa pra eles e a minha vingança veio molhada e fedida: tacaram meus tênis dentro da privada cheia de xixi...
Foi nesse cenário em que a minha palavra resolveu surgir.
Eu tinha uma amiga, Caroline. Caroline era mais esperta que eu, apesar de ainda não ter peitos. Eu era só uma menina vinda da cidade grande, que até ali só tinha estudado em colégios de filinhos de papai. Caroline era mais vivida, tinha uns primos mais velhos e já tinha até repetido de ano. Ela era a mais engraçada e levava a gente pra se embrenhar nos matos na hora do recreio, porque gostava comer buriti do pé que tinha lá na escola.
Um dia, durante a aula, a professora saiu da sala pra buscar alguma coisa. No meio da algazarra que se fez, Caroline falou uma palavra nova: PICA. Quando disse que não sabia o que era todo mundo começou a rir, mas ninguém quis me explicar o que significava e alguns insistiram pra que eu perguntasse pra professora.
Nunca tive medo das perguntas. Na minha cabeça, o que eu não conheço não pode me destruir (o que é uma baita mentira, mas quem liga?). A professora entrou na sala e sem pensar meia vez, soltei:
- Professora, o que é PICA?
- Professora, o que é PICA?
- O que?
- PICA, o que é?
- Quem te disse isso? - ela perguntou, com uma voz amabilíssima.
- Quem te disse isso? - ela perguntou, com uma voz amabilíssima.
- A Carol.
A professora se chamava Josemira e ostentava a fama de ser a mais carrasca do mundo. Além de mandar um bilhetinho pros pais da Carol, ainda obrigou ela a escrever todo o salmo 119. E eu continuei sem saber o que era pica. Ficava com medo de perguntar pros meus pais e entre os meus colegas o assunto estava devidamente encerrado. Fiquei alguns anos me perguntando o que é que uma palavra tão pequena e tão sonora podia ter de tão ruim.
Pica foi a minha primeira palavra absoluta porque, além de sempre ressurgir na minha cabeça, representava toda a minha curiosidade e o meu destemor diante das coisas novas. E essa é uma coisa que carrego até hoje, com o maior orgulho do mundo.
Não lembro exatamente de quando foi que eu descobri o que era uma pica, mas tenho certeza de que foi muito decepcionante... Que nem boquete.

*
Eu já tinha dez anos e Lucas era o filho de uma amiga da minha mãe. A gente tinha apostado algum dinheiro e eu fui feliz e orgulhosa receber o que era meu por direito.
- Lucas, eu descobri o que é boquete.
- Sério? Então, vamos ver, me fala o que é...
Mas daí a minha mãe sai detrás das cortinas e com uma cara devastadora vai me arrastando pelas orelhas.
- É o nome daquelas bolinhas de tênis, mãe. Eu juro.
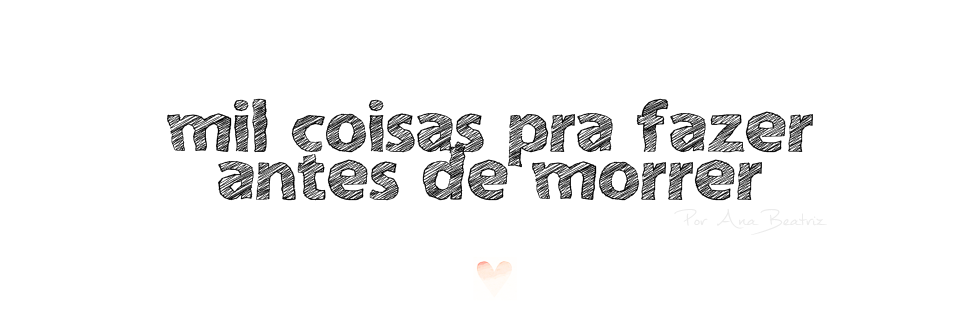

Nenhum comentário:
Postar um comentário